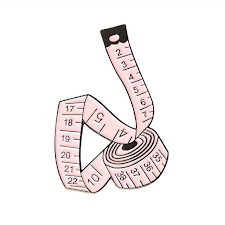“Não,
meu bem, não adianta bancar o distante, lá vem o amor nos dilacerar de novo…”
Andei pensando coisas. O que é raro, dirão os irônicos. Ou “o
que foi?” – perguntariam os complacentes. Para estes últimos, quem sabe,
escrevo. E repito: andei pensando coisas sobre amor, essa palavra sagrada. O
que mais me deteve, do que pensei, era assim: a perda do amor é igual à perda
da morte. Só que dói mais. Quando morre alguém que você ama, você se dói
inteiro(a)- mas a morte é inevitável, portanto normal. Quando você perde alguém
que você ama, e esse amor – essa pessoa – continua vivo(a), há então uma morte
anormal. O NUNCA MAIS de não ter quem se ama torna-se tão irremediável quanto
não ter NUNCA MAIS quem morreu. E dói mais fundo- porque se poderia ter, já que
está vivo(a). Mas não se tem, nem se terá, quando o fim do amor é: NEVER.
Pensando nisso, pensei um pouco depois em Boy
George: meu-amor-me-abandonou-e-sem-ele-eu-nao-vivo-então-quero-morrer-drogado.
Lembrei de John Hincley Jr., apaixonado por Jodie Foster, e que escreveu a ela,
em 1981: “Se você não me amar, eu matarei o presidente”. E deu um tiro em
Ronald Regan. A frase de Hincley é a mais significativa frase de amor do século
XX. A atitude de Boy George – se não houver algo de publicitário nisso – é a
mais linda atitude de amor do século XX. Penso em Werther, de Goethe. E acho
lindo.
No século XX não se ama. Ninguém quer ninguém.
Amar é out, é babaca, é careta. Embora persistam essas estranhas fronteiras
entre paixão e loucura, entre paixão e suicídio. Não compreendo como querer o
outro possa tornar-se mais forte do que querer a si próprio. Não compreendo
como querer o outro possa pintar como saída de nossa solidão fatal. Mentira:
compreendo sim. Mesmo consciente de que nasci sozinho do útero de minha mãe,
berrando de pavor para o mundo insano, e que embarcarei sozinho num caixão rumo
a sei lá o quê, além do pó. O que ou quem cruzo entre esses dois portos gelados
da solidão é mera viagem: véu de maya, ilusão, passatempo. E exigimos o terno
do perecível, loucos.
Depois, pensei também em Adèle Hugo, filha de
Victor Hugo. A Adèle H. de François Truffaut, vivida por Isabelle Adjani. Adèle
apaixonou-se por um homem. Ele não a queria. Ela o seguiu aos Estados Unidos,
ao Caribe, escrevendo cartas jamais respondidas, rastejando por amor.
Enlouqueceu mendigando a atenção dele. Certo dia, em Barbados, esbarraram na
rua. Ele a olhou. Ela, louca de amor por ele, não o reconheceu. Ele havia
deixado de ser ele: transformara-se em símbolosem face nem corpo da paixão e da
loucura dela. Não era mais ele: ela amava alguém que não existia mais,
objetivamente. Existia somente dentro dela. Adèle morreu no hospício,
escrevendo cartas (a ele: “É para você, para você que eu escrevo” – dizia Ana
C.) numa língua que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar.
Andei pensando em Adèle H., em Boy George e em
John Hincley Jr. Andei pensando nesses extremos da paixão, quando te amo tanto
e tão além do meu ego que – se você não me ama: eu enlouqueço, eu me suicido
com heroína ou eu mato o presidente. Me veio um fundo desprezo pela minha/nossa
dor mediana, pela minha/nossa rejeição amorosa desempenhando papéis tipo
sou-forte-seguro-essa-sou-mais-eu. Que imensa miséria o grande amor – depois do
não, depois do fim – reduzir-se a duas ou três frases frias ou sarcásticas. Num
bar qualquer, numa esquina da vida.
Ai que dor: que dor sentida e portuguesa de
Fernando Pessoa – muito mais sábio -, que nunca caiu nessas ciladas. Pois como
já dizia Drummond, “o amor car(o,a,) colega esse não consola nunca de
núncaras”. E apesar de tudo eu penso sim, eu digo sim, eu quero Sins.
ABREU, Caio F. O Estado de S.
Paulo, 08/07/86